Mais reveladores ainda são os recortes, quando o objeto de estudo era, de alguma forma, ligado à universidade: três projetos de pesquisa sobre o Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo (CRUSP), dois sobre a vizinha favela São Remo, um sobre a presença de meninos dessa favela no campus, um sobre o Museu de Arte Contemporânea (MAC), um sobre o bar Rei das Batidas, um sobre o uso da maconha…
Sem desmerecer essas escolhas – ao contrário, tomando-as como indicadores para introduzir uma questão mais ampla – tem-se a impressão de que a vivência no campus durante os anos de formação dos estudantes, com toda a gama de atividades que ela implica, não estabelece neles uma identificação positiva mais forte: o CRUSP é visto antes como um estigma que como espaço de convivência de que se tem boas lembranças, e a favela, uma sombra e testemunha acusatória dos privilégios de uns frente à carência de outros, justo ali ao lado. Bem, sempre se leva a lembrança de alguns momentos de lazer e descontração…
No caso mais específico do CRUSP, chama a atenção o contraste com outros estudos sobre moradia estudantil, como o analisado no trabalho “Uma embaixada estudantil em Ouro Preto”, das alunas Nathália Guimarães von Kruger e Paula Moura Lacerda de Souza (2003). Nesse estudo, as autoras mostram a profunda e duradoura identificação dos moradores com as famosas repúblicas estudantis ligadas à Universidade Federal de Ouro Preto. Algo idêntico ocorre em Piracicaba/SP, onde os novos alunos da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ) procuram as mesmas repúblicas em que moraram seus pais, tios, etc. quando fizeram a faculdade e continuam participando, mesmo depois de formados, com toda a família, das festas que comemoram datas significativas na história dessas repúblicas; os famosos apelidos que recebem em seu batismo de entrada também são passados “de pai para filho”.
Tal fenômeno não se verifica em relação ao campus da USP no bairro do Butantã, em São Paulo. Além do mais, não obstante a ampla rede de equipamentos e instituições de que é dotado – hospital, museus, mídia (editora, rádio e TV, jornais, cinema), livrarias, bancos, restaurantes, lanchonetes, espaços de lazer e esportes – parece não suscitar maiores indagações, ao menos por parte de estudantes, em suas análises sobre sociabilidade, cultura urbana e dinâmica social.
O campus na cidade e como uma cidade
A primeira e mais óbvia aproximação para tentar entender a especificidade da dinâmica da cidade universitária seria uma análise comparativa com outros campi ou unidades de ensino superior situados em áreas centrais da cidade ou sem entorno demarcado, como acontece com a PUC, Mackenzie, Direito da USP, UNIFESP, entre outros. A dinâmica de um campus isolado – ainda que circundado pela cidade – evidentemente difere daquela de estabelecimentos que estão mais diretamente ligados ao tecido urbano. A primeira diferença é que, exatamente por sua distância ou dificuldade de acesso, um campus mais isolado precisa estar munido de equipamentos que forneçam a infraestrutura capaz de sustentar o cotidiano da vida acadêmica. Neste caso, ele passa a funcionar como uma cidade e depende de instituições e rotinas de gerência, controle, manutenção, etc.
Assim, a noção de «pedaço», originalmente elaborada a partir de pesquisas sobre lazer em bairros de periferia, aponta para a existência de um espaço social que se situa entre a esfera da casa e a da rua. Com base em vínculos de vizinhança, coleguismo, procedência e trabalho, o pedaço estabelece uma forma de sociabilidade mais aberta que a fundada em laços de família, porém menos formal e mais próxima do cotidiano que a ditada pelas normas abstratas e impessoais da sociedade mais ampla. É nesse espaço que se vive e compartilha toda sorte de vicissitudes que constituem o dia-a-dia por ocasião dos momentos de lazer, devoção, participação em atividades comunitárias e associativas, troca de favores e pequenos serviços; como também dos inevitáveis conflitos e disputas.
A vida na cidade, no entanto, não se restringe às experiências do cotidiano que transcorrem no âmbito do bairro. A circulação em direção a e através de territórios mais amplos dá-se por meio dos trajetos – percursos determinados por regras de compatibilidades – que abrem o particularismo do pedaço a novas experiências, situadas fora das fronteiras daquele espaço conhecido, onde se está protegido por regras claras e inequívocas de pertencimento.
O circuito, por seu lado, cumpre as mesmas funções da mancha; a diferença está na forma de inserção, uma vez que não apresenta o caráter de contigüidade espacial. Assim, por exemplo, é possível distinguir os circuitos dos cines de arte, das livrarias, dos brechós, de espaços neo-esotéricos, da cultura black, do agito gay, do movimento rapper e de muitos outros, constituídos por pontos espalhados pela cidade, mas que mantêm algum tipo de relação entre si, sendo conhecidos em sua totalidade apenas pelos usuários mais habitués.
Considerando-se o campus do Butantã em função de sua localização e dos vínculos que mantêm com a cidade, a categoria que mais se lhe aproxima é a de mancha. Nesse sentido, apresenta algumas particularidades: trata-se de uma mancha bem delimitada, cercada e até fechada. Se algumas linhas regulares de ônibus, por exemplo, constituem rotas de passagem e estabelecem aberturas com o tecido urbano mais abrangente, predominam as linhas especiais; há, ainda, controle nas entradas do campus, principalmente em determinados horários e dias, existe um sistema de segurança interna, etc.
É também possível, e talvez até com mais rendimento, olhar essa mancha em busca de regularidades internas, procurando observar em seu interior a ocorrência das demais categorias (pedaço, trajeto, circuitos). Para tanto, é preciso ajustar o foco e assim obter um olhar mais “de perto e de dentro”.
Lendo a cidade universitária nesta chave, vê-se que os usuários típicos – professores, funcionários e alunos – têm seus próprios “pedaços”, percorrem trajetos específicos, freqüentam circuitos de suas preferências; mas também cruzam territórios e espaços uns dos outros. É justamente quando esses planos se cruzam que se abrem novas e inesperadas possibilidades de trocas, de encontros (e também de conflitos) entre os atores, pois as diferenças se expõem e colocam, a qualquer momento, a inevitabilidade da presença do outro com a conseqüente necessidade de negociação.
Além do mais, como acontece em qualquer cidade, principalmente naquelas construídas com base em planejamento prévio, é possível identificar um outro domínio de uso e apropriação, também criado pelos atores e regido por normas que se sobrepõem, anulam ou reescrevem as originalmente previstas na prancheta. Abre-se aqui um inesperado e rico campo de análise: tome-se, a título de ilustração, uma pequena mostra do particular universo de um dos componentes da população do campus, os funcionários, com, por exemplo, as fotos de familiares nos locais de trabalho; os dizeres, avisos e cartazes nas suas cantinas e pontos de encontro; os circuitos de compra e venda de produtos caseiros (cosméticos, roupas, alimentação), as festas de aniversário, as confraternizações de fim de ano, os chás de cozinha, as listas de ajuda para casos de doença, funeral, roubo, enchentes…
Identidade e patrimônio
Seja como uma cidade em ponto menor, seja como uma mancha especial na metrópole circundante, a cidade universitária, em suas atividades específicas de ensino, pesquisa e extensão, apresenta um nível de atividades intenso, complexo, com base e apoio num corpo de agentes diversificado e altamente especializado. Entretanto, apesar de todo seu intrincado e interdependente sistema de trocas, a vida no campus e a referência a uma “comunidade universitária” não parecem fundar uma identidade forte, um sentimento de pertencimento mais geral.
As vivências que se têm dão-se com base em práticas e experiências mais ligadas a especialidades, a domínios separados e a dicotomias do que a totalidades: têm-se as Ciências Exatas versus as Humanas, o Clube dos Professores e o bandejão, os concursados e os celetistas, a pós e a graduação, as ricas instalações da Faculdade de Economia e Administração versus as mais precárias do prédio da Sociais, a Politécnica e a Educação, os espaços deteriorados ao lado de outros mais bem cuidados, e assim por diante. Há quem diga que a cidade universitária foi planejada justamente para produzir essa fragmentação e desta forma impedir um maior contato – considerado perigoso, na época – entre as diversas unidades, às quais se tem acesso com mais facilidade por carro que por outro meio transporte ou locomoção: o campus está na escala do automóvel, não do pedestre.
Num plano mais teórico, cabe observar que esta forma relacional de produção de identidades é conhecida na literatura antropológica e a referência mais clássica é o estudo de Evans-Pritchard (1978[1940]) sobre os Nuer. O sistema político deste povo nilótico baseia-se num processo de articulação em que os segmentos que se opõem num plano mais próximo da unidade doméstica e da aldeia juntam-se para formar novos segmentos, fundando alianças cada vez mais amplas, até o ponto limite em que todos se identificam como o povo Nuer contra os vizinhos Dinka.
As relações entre identidade e um de seus correlatos, o conceito de comunidade, continuam uma questão discutida e controversa na área das ciências sociais. George Marcus (1991), no texto Identidades passadas, presentes e emergentes: requisitos para etnografias sobre a modernidade no final do século XX ao nível mundial, em que discute uma proposta que chama de etnografia “modernista” para diferenciá-la do que denomina de etnografia “realista” (entre as quais situa o estudo sobre os Nuer, por exemplo), problematiza o conceito de comunidade, tradicionalmente referida a uma localidade específica e a uma identidade determinada: é preciso, segundo ele, dissolver as conotações de solidez e homogeneidade implicadas nessa relação, já que a formação de identidades depende de atividades desenvolvidas em muitos locais e planos de referência.
Numa outra linha de argumentação, pode-se também pensar a formação de identidades a partir do campo do patrimônio cultural. Tendo-se em vista a orientação desta coletânea, talvez essa seja a perspectiva mais apropriada para pensar o problema aqui delineado. Como é sabido, o tema do patrimônio apresenta uma série de desdobramentos, desde os já tradicionais “patrimônio arquitetônico” e “histórico”, passando pelo “cultural” e, recentemente, pelo conceito de “patrimônio imaterial”. Este último surge no discurso mais atual dos órgãos de preservação a partir da compreensão de que há uma realidade ainda não suficientemente contemplada na conceituação corrente e nos instrumentos e medidas oficiais de proteção: trata-se de um conjunto de bens culturais ainda não claramente delimitados, mas reconhecidos como merecedores de integrar o patrimônio cultural brasileiro, e não exatamente pelas mesmas razões e critérios que nortearam a formação e proteção do importante acervo centrado na arquitetura luso-brasileira do século XVIII.
Atitudes como esta, de abertura para com mudanças no plano mais geral da sociedade, de sintonia com tendências e movimentos políticos, culturais e ideológicos mais amplos não constituem novidade, na prática e na reflexão de técnicos, conselheiros e demais envolvidos com as questões do patrimônio. Assim, nas décadas de 70 e principalmente de 80, houve uma importante inflexão nos critérios habituais que se manifestou na preocupação com o legado de imigrantes mais recentes, minorias e grupos étnicos (Fonseca, 1996). Contribuições desses segmentos foram incorporadas ao patrimônio nacional na qualidade de testemunhos, ainda via tombamento, mas – é digno de nota – já não em nome do então chamado “interesse etnográfico” (melhor seria dizer “etnocêntrico”), critério ainda marcado por conotações elitistas, segundo membros e militantes de determinados movimentos sociais. Constituem mostras dessa nova orientação o tombamento, entre outros, de exemplares da arquitetura de imigrantes, de testemunhos da presença judia, de sítios ligados à resistência quilombola e de espaços dedicados a cultos afro-brasileiros (Magnani & Morgado, 1996).
Apesar de constituir um alargamento do alcance do conceito de patrimônio cultural, essa inclusão das marcas de outros atores ainda foi feita com base no valor documental de alguns de seus bens culturais inscritos e sujeitos às medidas habituais de descrição, levantamento e proteção. No final da década passada, entretanto, além da visão tradicionalmente voltada para a delimitação do núcleo de referência da nacionalidade, uma nova perspectiva começa a incorporar outros vetores e começa-se a falar, no cenário do patrimônio, em desenvolvimento, diversidade cultural, qualidade de vida, cidadania. Assim, nessa linha, o patrimônio já não se circunscreve à lista dos bens materiais, mas leva em conta a interrelação desses e de outras categorias de bens culturais – justamente aqueles denominados de “bens culturais imateriais”– com os contextos em que são produzidos e circulam.
Seu campus, sem dúvida, abriga uma série importante de “bens culturais”, desde edificações de interesse pelas características arquitetônicas, passando pelo desenho e disposição dos espaços, por sua área verde, seus equipamentos mais diretamente ligados à arte e à cultura, etc. e que já são reconhecidos como o patrimônio cultural da USP. Todavia, há um outro domínio que escapa a esse inventário e que talvez a noção de patrimônio imaterial ajude a resgatar. Ainda ambíguo em sua conceituação, tem-se uma primeira idéia do que seja esse patrimônio através dos itens que habitualmente compõem suas listagens: costuma-se falar de festas, folguedos, lugares de reunião, modos de fazer, narrativas orais, ritos, artes populares. Sua intenção é a de resgatar uma série de expressões culturais que não apresentam um suporte material claramente definido e por isso não são contempladas pelos habituais instrumentos e normas de preservação, como ademais, e principalmente, mostram um maior grau de fragilidade diante da força de agentes tais como o mercado, os meios de comunicação, etc.
Tomando-se apenas os itens acima mencionados que costumeiramente entram na lista para exemplificar o que seja o patrimônio imaterial, há quatro conjuntos de questões a se considerar: primeiro, a opção pela contemporaneidade; depois, trata-se de bens que não deixam (ou não deixaram) testemunhos monumentais e/ou duradouros; sua ocorrência verifica-se predominantemente em contextos iletrados; e, por último, coloca-se a questão da imaterialidade do suporte.
O primeiro feixe de questões diz respeito não apenas ao patrimônio imaterial mas a todo e qualquer bem cultural quando marcado antes por sua contemporaneidade do que por seu valor “histórico”: esses bens estão ainda imersos no fluxo da dinâmica cultural, sujeitos a contínuas mudanças e influências, sem que tenha transcorrido o tempo suficiente para sua sedimentação numa forma especifica e reconhecida. Esta situação coloca uma questão conceitual prévia e de fundo a respeito das próprias definições de cultura e patrimônio, cuja discussão, porém, não cabe nos limites deste texto.
Outra ordem de problemas surge quando essas manifestações ocorrem ou ocorreram em contextos iletrados. Neste caso, até podem ter como suporte um elemento material, mas evanescente (o som, o gesto), configurando o conjunto das chamadas tradições orais (contos, mitos, poesia, ritos, cantos), mas não dispõem do recurso da transcrição que, no caso de contextos letrados, permite transpor um saber ou encadeamento cognitivo específico para o plano abstrato das relações, dando-lhes perenidade. Quando, excepcionalmente, a comunidade conta com esse recurso da transcrição – seja por que meio for, como no caso da organização espacial da aldeia entre alguns povos indígenas, cuja forma constitui um verdadeiro diagrama de suas regras de parentesco e casamento – então o problema se coloca em outros termos.
Finalmente, a própria questão da imaterialidade do suporte. Uma festa popular religiosa (seja da vertente católica, seja dos cultos afro-brasileiros ou de outras tradições), por exemplo, é composta simultaneamente por vários códigos e por vários suportes: o som da cantoria, a sucessão ordenada dos passos de dança, o material dos instrumentos musicais e adereços, etc. Há problemas, evidentemente, na decisão de qual desses aspectos deve ser privilegiado como critério para classificar essa festa no campo da cultura imaterial; por outro lado, sabe-se que mesmo os bens claramente definidos pela materialidade e permanência de seus suportes, como as edificações, são depositários de múltiplos significados que só podem ser recuperados a partir das relações estabelecidas entre seus elementos constitutivos.
Em busca de marcas de identidade
Cada um dos termos empregados para qualificar o patrimônio – arquitetônico, histórico, cultural, imaterial – empresta-lhe uma conotação diferente; no entanto, há um elemento comum que perpassa todos: é o reconhecimento de que, em algum grau, constroem um sentido de pertencimento. Um “bem cultural” só faz parte, legitimamente, de determinado acervo (estando sujeito, portanto, a medidas oficiais de proteção) porque antes foi transformado pelos próprios atores em ponto de referência, ou seja, carregado de carga simbólica para eles.
Tome-se como exemplo – para ficar no âmbito da USP – o significado associado ao prédio que abrigou a antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras na rua Maria Antonia, hoje transformado em espaço cultural. Não é propriamente a edificação que importa, nem o conjunto de sua história ou a relevância de sua produção acadêmica que são levados em conta: a percepção e posterior reconhecimento como patrimônio cultural deve-se ao poder simbólico de um fato episódico, altamente dramático, sintético e facilmente lembrado que, associado a um processo mais geral (a resistência à ditadura) terminou condensando toda a trajetória da FFCL no prédio da rua Maria Antonia. Evidentemente, a função, papel e contribuição intelectual representados por essa faculdade ao longo de sua história não se reduzem à sua participação política, nem muito menos àquela modalidade específica que alguns de seus membros protagonizaram nos idos de 1968; mas foi este aspecto o que vingou para erigi-la como emblema; e “pegou”.
O outro exemplo vem de uma expressão corrente entre os estudantes, em determinados contextos: “p.u.” (pronuncia-se pê-u), que significa literalmente “padrão universitário”, mas é aplicada apenas às universidades públicas, especialmente USP/UNICAMP/UNESP. Este termo é usado para designar a mudança de comportamento dos novos alunos, após a maratona do vestibular, principalmente quando retornam às suas cidades de origem, no interior. Esses alunos passam a exibir um certo ar intelectual, assumem outros gostos, exibem preferências por determinados tipos de filme, de leitura. A expressão não é empregada no caso das particulares porque ter “p.u.” implica também preocupação com questões como a gratuidade do ensino público, a qualidade dos cursos, o financiamento da pesquisa acadêmica, etc. – perenes temas de discussão do movimento estudantil e que pouco ambiente encontram nas universidades e faculdades privadas.
Diferentemente do exemplo anterior, em que o pertencimento está ligado a uma determinada unidade, neste caso trata-se de uma esfera mais ampla, cujo referente são as universidades estaduais paulistas. Ambos, porém, têm em comum o fato de não apresentarem como base de sustentação um suporte tangível, localizado: são comportamentos, estilos e relações que estão a evocar marcas identitárias.
Eis um filão que precisa ser mais bem pesquisado para enquadrar melhor e separar as questões, seja da suposta inexistência de marcas identitárias, da presença dessas marcas apenas no plano de segmentos específicos ou, finalmente, da consistência de algum símbolo mais abrangente. Para tanto, seria preciso ler em conjunto as diferentes “classes” de patrimônio – o arquitetônico, o urbanístico, o histórico, o imaterial. No caso específico deste último, sem dúvida faz-se necessária uma metodologia específica, pois, como foi reiterado, ele está inscrito nos comportamentos, nos padrões e rotinas de trabalho, nas relações entre os atores, nos estilos de investigação desenvolvidos nos laboratórios, na retórica das salas de aula – nada muito retumbante, nem quantificável ou de fácil registro.
Uma estratégia seria começar distinguindo dois planos: em primeiro lugar, aquele em que se forma o jogo das identidades internas, à la Nuer, agrupando os atores considerados de dentro, procurando distinguir, porém, os espaços, fronteiras e elementos constitutivos de seus ethos. Trata-se, como foi sugerido mais acima, de começar pesquisando os três segmentos clássicos que apresentam um sem-número de divisões e subdivisões, como os professores (doutores, titulares, das exatas, das humanas, em rdidp, rtc e assim por diante); os alunos (de graduação, de pós-graduação, bolsistas, moradores, africanos, latinos, etc.); e os funcionários (técnicos, administrativos, em cargos de confiança, terceirizados, celetistas…). Neste caso, os domínios a considerar são a vida cotidiana, o calendário, os ritos, as especialidades, os “saberes”, as rotinas específicas de trabalho.
Trata-se, em suma, de verificar o que dá “liga” ao patrimônio da USP, o que realmente fica, por exemplo, para os alunos, como referência de todo o seu tempo de formação. Será que apenas as alegres e etílicas confraternizações no “Rei das Batidas”?

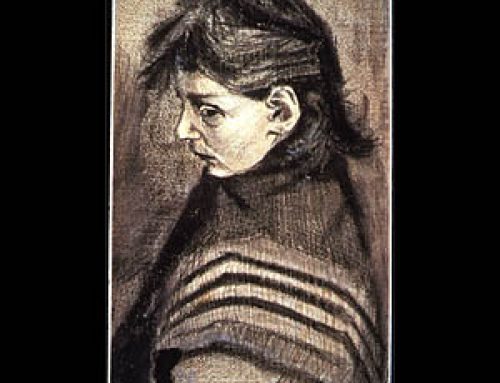




Leave A Comment