Silvano Aparecido Redon
Universidade Estadual de Londrina
Devido às dificuldades encontradas ao longo da pesquisa etnográfica no que diz respeito à nomeação dessa doença, freqüentemente relacionada à dor, à morte e/ou à mutilação do corpo, centrei-me nas expressões – categorias nativas – utilizadas pelos pacientes para se referirem ao câncer. Defini como abordagem teórica a que tem como base a análise das configurações representacionais que pressupõem o indivíduo movendo-se através de uma rede de significações e de uma estrutura representacional já existente. Esta linha parte da análise durkheimiana das categorias do pensamento humano e, na atualidade, do trabalho de Luiz Fernando Dias Duarte, que retoma esta tradição da Escola Sociológica Francesa, articulando com ela as contribuições do estruturalismo de Louis Dumont.
A experiência de campo
Quando iniciei o Curso de Ciências Sociais, já trabalhava no Hospital do Câncer de Londrina (HCL). E algo que me chamava muito a atenção era a intensa busca de itinerários terapêuticos, pelos pacientes, para enfrentar a doença. A busca por agências diversas me impressionava, assim como o leque de opções e itinerários existentes. Pacientes e acompanhantes referiam-se a igrejas, a médiuns que faziam operações invisíveis, a «garrafadas», a simpatias, a benzedeiras e a remédios caseiros. A crença na cura mágica ou religiosa era um assunto muito freqüente entre eles, o que eu percebia com facilidade por trabalhar nas enfermarias do hospital.
No segundo ano do curso escrevi um pré-projeto sobre os itinerários terapêuticos, mas a bibliografia sobre Antropologia da Saúde com a qual entrei em contato chamava minha atenção para o fato de os pacientes apontarem sempre outras doenças, e não o câncer, para se referirem à sua internação ou presença no Hospital do Câncer. Ficava claro que eles utilizavam metáforas para não nominar, abertamente, o câncer. Ao discutir meu pré-projeto com uma médica do corpo clínico do hospital, ela me apresentou a seguinte questão: «como abordar esta busca em torno da cura do câncer, se muitos deles não sabem que têm câncer?».
A leitura do livro A doença como metáfora, escrito pela filósofa Susan Sontag (1984) me possibilitou perceber que o câncer é uma doença carregada de representações negativas que aumentavam o sofrimento do paciente e dos familiares e, certamente, levava muitos deles a não nomearem a doença. Era difícil afirmar se os pacientes não sabiam ou não queriam saber que doença tinham. Mas se omitiam a doença para si próprios isso se dava, ao que tudo indicava, em decorrência dos valores negativos associados ao câncer e aqueles relacionados à morte.
Nesta época eu já trabalhava na Unidade de Terapia Intensiva e, antes de escrever novo projeto de pesquisa, passei a observar, em minha rotina de trabalho, como, de fato, pacientes e familiares se referiam à doença. Em seguida passei a anotar estas considerações, sistematicamente, em um diário de campo logo após o fim do expediente. Porém, não obtive muitos avanços na pesquisa enquanto estive limitado a esta unidade do hospital. As visitas eram muito restritas, o que me impossibilitava maior aproximação com os familiares. Além disso, os pacientes em cuidados intensivos não podiam interagir com o pesquisador. Isto inviabilizava qualquer tentativa de estudo e, juntamente com o fato de que não poderia limitar a pesquisa apenas a este setor, passei a fazer as observações também no Ambulatório do hospital. Estava certo de que ali poderia desenvolver a pesquisa com mais facilidade. Além disso, como queria estar diretamente envolvido com os pacientes e seus acompanhantes para o desenvolvimento do estudo, ou seja, como desejava estar mais próximo a eles, imaginei que o Ambulatório pudesse ser um local mais apropriado para o trabalho.
Durante alguns dias não me apresentei como funcionário do hospital, mas como pesquisador. Temia que o fato de trabalhar no hospital pudesse influenciar de alguma forma a pesquisa que estava iniciando. Acreditava que ao me apresentar como um profissional do hospital, poderia inibir os entrevistados ou fazer com que projetassem uma visão não condizente com suas realidades. Apresentava-me como estudante de Ciências Sociais que estava desenvolvendo um trabalho na área de Antropologia da Saúde. Mas logo percebi que isto não seria ético, uma vez que eu desejava estabelecer uma relação de confiança com eles. Compareci ao ambulatório durante várias semanas, apresentando-me como estudante e profissional do hospital, mas, diferentemente do que imaginava, não obtive muitos sucessos. Primeiro, porque havia um certo constrangimento de minha parte em apontar que o estudo era sobre os pacientes em tratamento de câncer. Não sabia se os pacientes tinham consciência de seus diagnósticos ou se a família preferia ocultar isto deles. Assim, tentava um diálogo que pudesse sinalizar para o paciente a sua história e sua experiência junto à doença, esperando a confirmação ou não de meus pressupostos, ou seja, esperando a confirmação ou não de que, de fato, o câncer era uma doença inominável para muitos. E, principalmente, esperando obter respostas que me levassem ao motivo de não se nominar a doença. As respostas eram extremamente vagas. E, de certa forma, isto evidenciava que o câncer era uma doença indizível. Cheguei a comentar com uma amiga do grupo de pesquisa sobre a dificuldade de obter respostas. Mas, como ela me disse, isto apenas comprovava minhas hipóteses. Mesmo assim, isto era insuficiente para dar continuidade ao trabalho. Como o câncer ainda é uma doença que suscita medos, cheia de significados negativos e metáforas que dificultam sua nomeação, os pacientes e acompanhantes não eram muito receptivos à pesquisa.
Como apontei acima, além de obter respostas vagas, os acompanhantes demonstravam que não queriam ser pesquisados e que não gostariam que eu realizasse o estudo com os pacientes. Eles diziam: «Vai lá dentro. Lá você consegue estudar melhor»; «Agora não dá, a gente já vai ser chamado pra consulta». Vários acompanhantes ainda me diziam: «Não, ele não sabe de nada e é melhor a gente não falar agora, que ele pode ouvir». É claro que obtive muitas informações importantes que me deram uma série de inspirações e orientações para a pesquisa. Mas, de maneira geral, seria muito difícil o estudo naquelas condições. E acho que não poderia ser diferente. Muitos pacientes estavam à espera de seus diagnósticos, outros haviam acabado de recebê-los, outros ainda estavam com medo, ansiosos por iniciar um tratamento desconhecido ou mesmo dar continuidade a ele. Nada mais natural do que estarem apreensivos, assustados, estranhando aquela situação e, principalmente, não querendo falar. Os acompanhantes também sentiam a necessidade de «proteger» seus entes ou amigos e eu não insistia na conversa, sentindo-me incomodado por incomoda-los. Achava que deveria ser recebido sem insistências e sabia que deveria respeitar as suas limitações. Sempre imaginei que talvez as pessoas não quisessem falar no intuito de evitarem a materialização e a proximidade da doença, fato que era evidenciado por muitos estudiosos da Antropologia da Saúde. Diante destas dificuldades eu pensava: «parece que ainda não tenho campo para a pesquisa».
É importante ressaltar a necessidade de se ter uma boa «entrada» no grupo a ser pesquisado. Acredito que o ideal seria que o pesquisador, quando possível, fosse apresentado ao grupo. Entendo o grupo como um conjunto de pessoas que possuem ou partilham certas categorias referentes a uma realidade comum e que apresentem ainda, como características o fato de ser delimitado e existir enquanto tal. No meu caso, enquanto estive no ambulatório do hospital não percebia a existência de um grupo que pudesse partilhar uma experiência comum e com a qual eu pudesse interagir. Embora esta realidade fosse apenas uma, não percebia a concretude de um grupo, mas a existência de pessoas móveis, que não se conheciam e dificilmente voltariam a se ver. Não percebia a existência de um grupo em si. Diferentemente de Rial (2003) que em um estudo sobre os fast-foods defendia a idéia de um campo mais fluído, preferi optar pelo estabelecimento de um campo mais tradicional. Daí a minha escolha por realizar a pesquisa na Casa de Apoio Lucilla Ballalai, pertencente ao hospital, localizada em suas imediações e disponível para pacientes que fazem tratamento de radio ou quimioterapia que não necessitam de internação. A Casa de Apoio atende aos pacientes que moram em localidades distantes, os quais utilizam-na pelo tempo que for necessário para a realização do tratamento ambulatorial.
Embora a permanência dos pesquisados na Casa de Apoio- descrita mais abaixo- não fosse continua, havia a delimitação de um grupo com algumas experiências em comum – no caso, relacionadas ao tratamento de câncer – que se encontram temporariamente em diferentes momentos e que compartilham esse local, ou seja: há a delimitação de um grupo mesmo que em movimento ou «transitório»- este último termo tomo emprestado de Silva, em estudo realizado entre os índios Xetá (SILVA, 1998).
Porém, embora os pacientes sentissem a necessidade de falar sobre a doença e sobre suas histórias, o câncer ainda se apresentava como uma doença de difícil nomeação, quase indizível, eu afirmava na época. Com o desenvolvimento da pesquisa, percebi que o câncer era nominável de muitas outras formas, e este sistema de nominações tornou-se o objeto de minha pesquisa. Para tanto, precisava mapear alguns pacientes e estabelecer uma conversa dia após dia, o que me possibilitasse estabelecer uma maior relação de confiança para perceber o sentido de suas falas. Percebia que a pesquisa etnográfica deveria ser construída com uma certa insistência e sem pressa, devendo ser contínua. Além disso, eu não poderia ficar muitos dias sem ir ao campo. Assim, pude acompanhar pacientes durante várias semanas e durante todo o tratamento. Com isto ficava claro que muitos sabiam, sim, os seus diagnósticos, embora insistissem em apontar uma série de outras doenças para justificar sua permanência na casa.
Juntas, observação participante e diário de campo foram as duas primeiras técnicas utilizadas na pesquisa no intuito de exercitar o estranhamento em relação ao objeto de estudo, ou seja, eu precisava transformar o familiar em exótico. Por estar inserido a quase dez anos no local que agora havia se transformado em meu campo de estudo, precisava fazer este exercício para poder dar forma à pesquisa. De acordo com Peirano (1995), o estranhamento possibilita o confronto entre teorias, entre teoria e pesquisa e favorece a auto-reflexão. Da Matta (1978) nos chama a atenção para o fato de que as transformações (seja a do exótico em familiar, ou a do familiar em exótico), não são totais, mas continuam se dando com a presença de «resíduos» entre um e o outro e, no meu caso, este exercício de estranhamento era o ponto de partida. Segundo o autor, «é necessário um desligamento emocional, já que a familiaridade do costume não foi obtida via intelecto, mas via coerção socializadora» (p.30). A princípio, percebia que me deparava com um problema de difícil solução: como obter este estranhamento? Mas percebi que, além de poder utilizar o referencial teórico oferecido pela Antropologia da Saúde, os pesquisados e eu nos encontrávamos em diferentes posições. De fato, eu estou inserido no local há dez anos, tive contato com pacientes e familiares durante todo este tempo, mas nunca passei por alguma situação parecida, nunca vivi o que eles viviam, ou seja, não compartilhava suas experiências em relação ao câncer . Também não alcançava a dimensão de seus sofrimentos, medos e sentimentos. Além disso, muitos deles eram pessoas absolutamente leigas em relação ao tratamento e à doença. Assim, já havia um certo distanciamento em nossas relações, uma vez que eu estava «do outro lado» e o objeto, em si, era algo novo, algo que eu só vim a perceber, de fato, agora. E, mais importante do que isso, eu nunca havia olhado para o hospital e para os pacientes com um olhar informado por questões e problemas de pesquisa e, sobretudo, por teorias que orientam essas questões e problemas. Mas a questão do distanciamento é contraditória. Se, por um lado, eu o via como algo positivo, por outro deveria atenuá-lo, diminuir estas diferenças. Uma das maneiras encontradas foi tomar parte dos Evangelhos e do café da manhã ou da tarde com eles. Victora (2000, p.55), por exemplo, nos diz que embora este distanciamento seja um pressuposto da pesquisa científica, é necessário estar atento para a dualidade entre aproximação e distanciamento. Ela nos chama a atenção para o fato de que o antropólogo «precisa estar ao mesmo tempo próximo e distante do grupo estudado (…). Ele precisa estar próximo do grupo pesquisado e, ao mesmo tempo, dele distanciar-se para não ser excessivamente impregnado pela problemática e pelo ponto de vista do grupo pesquisado». Segundo Evans-Pritchard (2005, p. 246) «o antropólogo vive simultaneamente em dois mundos mentais diferentes, construídos segundo categorias e valores muitas vezes de difícil conciliação».
Assim, ao mesmo tempo em que eu precisava me afastar daquilo que me era familiar, utilizando técnicas de pesquisa oferecidas pelo arsenal antropológico e que favoreciam o estranhamento em relação ao objeto de estudo, precisava, também, me aproximar dos pesquisados, quando em campo, e me distanciar destes no momento de proceder as interpretações de suas falas. Embora o antropólogo não tenha como meta o trabalho de campo (PEIRANO, 1995; WOORTMANN, 1997), existe uma série de questões que não podem ser obtidas de outra forma e, para o estudo que me propunha desenvolver, a pesquisa etnográfica era indispensável. Interessado em analisar os significados atribuídos ao câncer, não poderia, de forma alguma, abrir mão da pesquisa etnográfica.
O método etnográfico pressupõe a observação participante. Para a antropologia, a importância deste método de pesquisa reside no fato de que, para se entender o comportamento humano, bem como suas crenças, é necessário que estes sejam analisados in locu, devendo o observador estar atento para o ponto de vista do pesquisado. Este método favorece a pesquisa e se apresenta como indispensável, sendo por meio da observação participante que o pesquisador pode analisar posturas, gestos, perceber contradições, valorizações feitas pelo próprio grupo estudado, rede de relações existentes, postura corporal e o próprio ambiente (MALINOWSKI, 1978). Foi este método que me propiciou perceber uma série de classificações, significados, metáforas atribuídos pelos pacientes para o tratamento e para a doença.
Dentro de meus limites, procurava ir à Casa com uma certa freqüência. Havia dias que chegava um pouco mais cedo ao hospital para trabalhar e ia até lá, outras vezes realizava as visitas no período da manhã ou da tarde e com o passar dos dias comecei a aceitar os convites que me faziam e tomava o café com eles, bem como também participava dos momentos de reflexões, promovidos pelos voluntários. Em certas ocasiões, nem falávamos sobre a doença ou sobre o tratamento. Falávamos de diversos assuntos e, assim, a relação de amizade e de confiança entre pesquisador e pesquisado foi se fortalecendo cada vez mais. É importante mencionar que eram em muitas dessas conversas que não tinham como foco o objeto de pesquisa, que eu percebia muitos detalhes em relação a ele, trazidos espontaneamente pelos pesquisados em meio a uma conversa bastante informal.
Ter delimitado a Casa de Apoio como local para o campo de minha pesquisa ainda me possibilitou contrapor as falas dos pacientes e de seus acompanhantes, bem como suas divergências. Assim, procurava, quando possível, conversar com os dois em momentos distintos. Muitas vezes era preciso apenas iniciar a conversa com um paciente para que outros se aproximassem e participassem conosco, contando suas histórias. Como na maioria das vezes estavam sempre juntos na sala ou na copa, nem sempre era muito fácil estabelecer a conversa com apenas um paciente. Por um lado isto era muito bom, pois os pacientes, e também os acompanhantes, se sentiam até mais seguros em falar e isto acabava motivando os demais. Em algumas ocasiões estavam todos animados em falar sobre suas histórias envolvendo a doença. Em outras, nossas conversas acabavam tomando outros rumos e eu não fazia muitos esforços para retomá-la. Sabia que poderia continuá-la em outro dia. Também procurei estabelecer conversas um pouco mais privadas, na intenção de receber informações mais íntimas sobre a experiência da doença. As conversas mais profundas, somente foram conduzidas depois de terem acontecidos vários encontros, o que possibilitava uma maior aproximação com o entrevistado e fazia com que eles se «acostumassem» com a presença do pesquisador na Casa. Aliás, esta era uma questão que me incomodava um pouco no início, mas que, com o passar dos dias, foi se diluindo. Tinha muitas dúvidas em relação ao fato de estar sendo realmente aceito por eles. Sabia que não havia outros estudantes na Casa, mas tinha muito medo de estar forçando alguma situação e mesmo de estar sendo inconveniente. Talvez este medo tenha partido do fato de ter, como objeto de pesquisa, um assunto tão difícil de ser abordado, que trazia recordações tristes para muitos pacientes e que eu, de certa forma, os fazia viver. Mas como já mencionei, eles também sentiam a necessidade de falar, e isto me confortava. Em pouco tempo eu era o «funcionário do hospital que estuda a Casa» e sempre era apresentado pelos «novos moradores», pelos próprios pacientes e acompanhantes que já estavam lá.
Ao longo do trabalho procurei estabelecer um diálogo com o grupo estudado e, embora precisasse selecionar o material coletado, espero ter a sensibilidade para resgatar os aspectos que traduzem melhor a realidade e o ponto de vista do grupo através das análises de suas falas Como Malinowski (1978, p. 24) aponta, os significados das práticas dos seres humanos não podem ser aprendidos com facilidade, uma vez que estes significados «encontram-se incorporados no mais evasivo de todos os materiais: o ser humano». Disto decorre a dificuldade em transformar o material bruto em um quadro analítico. Para que esta apreensão possa traduzir «a carne e o sangue» do grupo, estou certo de que a interação social entre pesquisado e pesquisador foi fundamental processo, em que levei em consideração o respeito, a ética e a confiança, bem como o tempo, o desejo e as possibilidades dos interlocutores. Procurei não realizar perguntas diretas, mas estabelecer diálogos que sinalizassem para aquilo que eu desejava obter. Também realizei um trabalho de campo contínuo, o que me possibilitou a percepção de regularidades e o conhecimento dos fatos etnográficos.
Falei da importância de ter sensibilidade em relação ao grupo pesquisado Com isto, não estou querendo dizer que o pesquisador possa sentir como o nativo. O antropólogo é ele mesmo o tempo todo (EVANS-PRITCHARD, 2005; GOLDMAN, 2003; PEIRANO, 1995;). O que quero dizer é que é necessário que o pesquisador tenha a sensibilidade que permita a ele aproximar-se do grupo; realizar o trabalho de campo, mantendo, o tempo todo, o respeito e a ética; captando o ponto de vista do nativo; aproximando-se e se distanciando do grupo nos momentos exatos, sem deixar que suas crenças e práticas (do pesquisador) influenciem o resultado, mesmo que parcial, da pesquisa. Ou seja, o pesquisador observa, «sem jamais atingir nenhum tipo de totalização ou síntese completa». Sei que apenas comecei a desenvolver esta sensibilidade e acredito que as experiências de campo vão tornando o pesquisador mais sensível, mas isto é algo que se constrói ao longo do seus trabalhos.
Além de escolher a observação participante e o diário de campo como técnicas de pesquisa, também foram utilizadas conversas informais. Com relação ao diário de campo, reservava as folhas da esquerda do caderno para anotar fragmentos das falas e suas sínteses e as folhas da direita para anotar minhas impressões em relação ao campo. Procurava anotar o máximo de informações, o que em algumas ocasiões nem sempre era possível e talvez tenha sido traído pela minha memória, sobretudo nas conversas mais prolongadas, uma vez que evitava fazer anotações na frente dos pacientes e dos acompanhantes. Dito isto, fica evidente que não foram utilizadas entrevistas formais durante toda a pesquisa, uma vez que este tipo de entrevista poderia não desfazer o desconforto de se falar de uma doença que remete à morte e por se tratar de um assunto tabu, ao menos de início. Além disto, não precisei submeter o pesquisado ao Termo de Consentimento, exigência do CONEP- Comissão de Ética em Pesquisa -, órgão do Ministério da Saúde. Este Termo de Consentimento, necessário aos estudos da Biomedicina, não apresenta relevância para os estudos antropológicos. Pelo contrário, conforme evidencia Cardoso de Oliveira (2004), ele se apresenta pouco produtivo para a Antropologia.
Classificações e significados da doença e do tratamento
Os resultados obtidos até o momento me permitem afirmar que o câncer, inominável em um primeiro momento, é, na realidade, nomeado de muitas outras formas por meio de metáforas. Centrando-me nas falas dos pacientes, pude perceber que eles se referem ao câncer como sendo «aquele que é parado»/ «o que caminha»; o «manso»/ «bravo»; o «fraco»/ «forte»; «o que não volta mais»/ «aquele que brota»; o «novo»/ «avançado»; o «bom»/ «ruim».
Em relação ao tratamento, no que diz respeito às quimioterapias, os pacientes estabelecem uma classificação própria de sua agressividade e indicação, de acordo com suas cores. Assim, dizem que a medicação de cor branca é para pacientes cuja doença está controlada e que não oferece maiores riscos de vida. A de cor vermelha, seria para pacientes em estado avançado da doença, indicada para «quando não há mais nada pra fazer» e quando já se «pode até parar o tratamento». A classificação branco como sinônimo de pureza e vermelho como sinônimo de perigo é encontrada em muitas culturas, sendo outro exemplo da oposição binária.
As categorias classificatórias da doença e do tratamento encontradas são passíveis de serem pensadas por serem construídas pelo social e utilizadas pelos indivíduos para expressarem suas visões sobre a doença. Portanto, seus estudos oferecem um instrumento para o conhecimento de uma dada realidade. Embora o indivíduo utilize estas categorias, elas não são construções individuais, já que são categorias existentes a partir da multiplicidade de associações de idéias. Esta abordagem teórica é seguida por Luiz Fernando Dias Duarte, partindo de Durkheim, Mauss e Lévi-Strauss. Este autor centra-se, ainda, nas teorias de Dumont sobre a ideologia do individualismo e sobre a hierarquia como princípio estrutural, para compreender as formas de perturbação no que diz respeito às representações sobre as doenças dos nervos na classe operária brasileira, tomando as configurações representacionais como forma de conhecer os fenômenos sociais. Esta abordagem propiciou a este autor o estudo das perturbações físico-morais, perturbações estas provocadas por irregularidades (como as doenças, dadas suas implicações físicas e morais), e que afetam não apenas a corporalidade do sujeito social, mas sua vida moral. A compreensão das dinâmicas das significações e a teoria dumontiana, também possibilitam ao autor contrapor a lógica da racionalização e do «cientificismo» e a pretensa universalização do modelo biomédico, que desconsidera as representações em torno das doenças como categorias de significação holística referente à sua cosmologia. O estudo das representações sociais, enquanto meio de se perceber os significados construídos sobre aquilo que afeta a sociedade, permite ultrapassar a imediaticidade e o nível de observações decorrentes das narrativas, favorecendo a emergência de matrizes de significados.

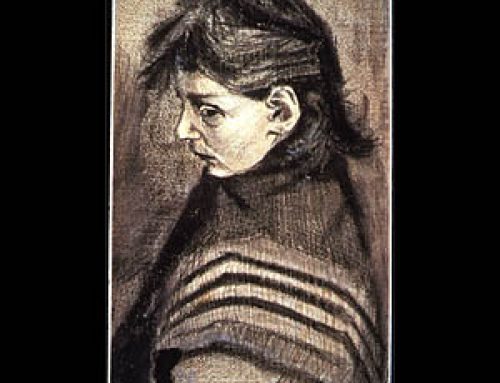




Leave A Comment