Este trabalho se propõe analisar como jogos digitais, no ato da interação, veiculam discursos a favor ou contra valores culturais específicos, podendo tanto reproduzir preconceitos e auxiliar a manter situações de desigualdade e opressão como auxiliar a subverter crenças estabelecidas e trazer novos olhares sobre a realidade para seus usuários. Partiu-se do pressuposto de que jogos podem ser concebidos como textos “hipermodais” (Lemke, 2002), ou seja, textos – entendidos aqui numa perspectiva mais ampla – nos quais se integram múltiplas modalidades (como texto verbal, som, imagens estáticas e dinâmicas) e o uso de hipertexto na veiculação de informações e construção dos sentidos. Tal perspectiva parece tornar possível o entendimento de como esses softwares/textos informam, argumentam, persuadem através de suas características enquanto mídia, ao passo que também o localizam como elementos oriundos de uma cultura específica, não os extirpando de seus contextos de produção.
Desse modo, entender tais jogos como texto, algo que já mostrava ser vantajoso para os estudos na área da linguagem (Beavis, 1998), mostra-se também interessante para produtores de games, educadores e pesquisadores engajados na formação do sujeito através desses artefatos culturais. Para os primeiros, a discussão é pertinente porque traz uma reflexão mais profunda sobre o modo como o jogo é compreendido pelo usuário e como cada escolha realizada no momento da criação pode influenciar no modo como o jogador interpreta tanto o jogo como a realidade. Para os outros, o caminho aqui sugerido pode expandir o leque de possibilidades de apropriação e exploração de diferentes tipos de jogos digitais – dos mais subversivos aos conservadores – que sejam pertinentes aos fins éticos e educacionais costumeiramente defendidos pelas instituições científicas e educacionais.
De maneira geral, é importante que os agentes aqui em foco – o tutor, o cientista e o criador – estejam a par dos mecanismos por meio dos quais os jogos favorecem determinados pontos de vista em detrimento de outros. É essencial, por exemplo, que interessados em lidar com tais jogos sob uma perspectiva educacional ou formativa compreendam as possíveis conseqüências desses discursos serem propagados, levando em conta não somente seu conteúdo mas também a forma como eles se apresentam nos videogames. Vale ressaltar, ainda, que o grande público dos games são jovens, muitos ainda em fase de aprendizado formal – ou seja, um dos grupos que mais constam nas pautas de debate sobre educação e formação. Também não se pode permitir que estudos – das mais diversas áreas – que desejem compreender a influência dos games sobre o sujeito ou na sociedade ignore justamente o que ele “diz” enquanto texto, o que ele procura “argumentar ao jogador” a partir de sua estrutura discursiva (ainda não sistematizada pelos estudos da área de linguagem).
Neste artigo, primeiramente, são apresentados os dois jogos postos em análise nesse trabalho (ver figuras 1 e 2): The Sims (2000), jogo distribuído pela Maxis; e Ayiti: The cost of life, desenvolvido pela GameLab e com o apoio da Global Kids e da Unicef (disponível on-line em: http://ayiti.newzcrew.org/ayitiunicef). mostrando como os jogos podem criar universos distintos a partir de um tema semelhante: o papel da criança na família e na sociedade. A esta breve apresentação, segue-se uma análise dos discursos sobre criança presentes na sociedade que estão envolvidos na criação de ambos os games, focando-se majoritariamente em dois deles: a criança como mão-de-obra e auxílio na complementação de renda familiar e a criança como fonte de investimentos, como pequena consumidora da qual não se espera nada além de crescer saudavelmente, brincar e aprender.
Num segundo momento, busca-se evidenciar modos particulares por meio dos quais os discursos se articulam num videogame para, a partir dessa abordagem, analisar o conceito de “criança” sendo veiculado na própria ação de cada jogo, na interação entre software e jogador, espaço em que se estabelece a construção do sentido. Nesta análise, a discussão irá centrar-se principalmente no conceito veiculado por cada jogo quanto ao “papel da criança na família e na sociedade”, contrastando com visões de mundo já estabelecidas sobre o assunto e suas conseqüências. Analiso os discursos em questão na interação entre pesquisador e jogo, de dois modos distintos. Primeiro, seguindo a dinâmica proposta pelo jogo e, na medida do possível, acatando suas propostas e desafios. Num segundo momento, procuro testar, mais especificamente, situações e questões estruturais do jogo que a primeira análise apontou como saliente. Isso tudo a partir de duas óticas simultâneas: uma, a de jogador experiente, dado que já conhecia os jogos; a outra, a de especialista na área da linguagem e tecnologia, buscando associações entre os discursos reproduzidos na interação e outros existentes na realidade.
Criança rica x criança pobre: em cada jogo um discurso
Caso um jogador desavisado desejasse saber mais sobre The Sims ou Ayiti: The cost of life por meio de sinopses e experiências de outros usuários, não é de todo improvável que ele encontrasse, de início, mais semelhanças que diferenças entre ambos. Afinal, tanto em um como em outro, o jogador tem como foco a manipulação de um núcleo familiar em busca de sucesso e felicidade. Também é semelhante o fato de que, nos dois casos, o tempo é o principal limitador da ação do jogador e que as escolhas do usuário têm de levar em conta as necessidades imediatas de cada membro da família. Porém, apesar desta semelhança e apesar de ambos os jogos tratarem de temas próximos, a visão que cada um traz sobre os assuntos em pauta é bastante diferente e o modo como cada jogo é construído explicita tal contraste.
O jogo The Sims se propõe a ser um «simulador da vida», “do cotidiano”, ou seja: vende a idéia de que a vida cotidiana pode ser simulada. Neste software, o jogador controla núcleos familiares, um por vez, e tem como objetivo gerenciá-los nos seus afazeres diários. Cada família nova – cuja fonte de inspiração são as famílias de classe média norte-americanas que vivem em subúrbios – recebe uma quantidade de dinheiro suficiente para comprar e mobiliar uma casa razoavelmente modesta. A partir daí, o jogador é levado a buscar a “felicidade” de seus “comandados”. Isso se dá tanto através de ações que lhe saciem a fome e as necessidades fisiológicas, proporcionem lazer, descanso e conforto, como através de um “ambiente” adequado aos olhos dos Sims – leia-se quartos limpos, iluminados e espaçosos.
Já Ayiti: The cost of life, é ambientado na zona rural do Haiti. O jogador controla uma família local, sem qualquer grau de escolaridade, em busca de prosperidade dentro de uma estratégia previamente escolhida dentro das quatro disponibilizadas: felicidade, dinheiro, educação ou saúde. Nessas condições, o jogador é levado a usar de toda a força familiar para que um ou outro membro da família tenha “sucesso”. Dadas as adversidades impostas pelo contexto, é muito improvável garantir que as benesses atinjam a todos e, por isso, o trajeto do jogador é marcado por sacrifícios e dilemas. Não é raro algum familiar morrer no processo, outro ser infeliz; porém, há como alcançar os objetivos propostos (dois dos cinco membros conseguirem um diploma, por exemplo, ou a família ter um padrão razoável de vida).
As diferenças que constituem os discursos de cada jogo não se resumem a simples recortes de localidade ou de metas mas também trazem visões distintas sobre o que é sociedade, trabalho, sucesso, criança, dinheiro, conforto, estudo etc . As visões de cada um dos jogos em análise encontram eco em discursos veiculados – no plano da realidade – em diferentes contextos e imersos em diferentes culturas. Centrando na questão do papel da criança na família e na sociedade – recorte proposto para análise neste trabalho – talvez essa reflexão fique mais clara.
A maioria das discussões sobre esse tópico – por mais distantes que sejam os pontos de vistas – tende a entrar no consenso de que crianças não deveriam trabalhar e que o mais indicado é, legalmente, postular esse tipo de atividade como crime. Porém, nem todos têm opinião formada sobre isso, chegando-se a questionar os motivos que levam uma criança a trabalhar, seja no nível do sujeito, seja em um nível social mais amplo. Resolve-se o problema julgando tal atitude como absurda, não questionando causas, mas engrossando o coro de quem pede a prisão para pais, empregadores ou outros envolvidos. Prega-se também que a educação seria a saída para tais crianças, mas não se discute como implementar essa educação.
Outros estudos levam a questão um pouco mais a fundo, como é possível perceber na linha defendida pela Unicef.. Num texto de esclarecimento sobre a prevenção e o combate ao trabalho infantil, isso fica explícito. Chama a atenção o seguinte trecho:
Para reduzir o trabalho infantil é preciso ter uma abordagem integrada que identifique as crianças que trabalham, sensibilize a sociedade sobre os danos morais, físicos e intelectuais do trabalho infantil, adapte as escolas para receber essas crianças, ofereça atividades culturais, esportivas, educativas e de lazer às crianças e compense a redução da renda familiar. (UNICEF BRASIL, [sd]).
A principal causa que leva crianças e adolescentes a trabalhar é a pobreza. Como integrantes de famílias empobrecidas, são forçadas a assumir responsabilidades de trabalho dentro de suas próprias casas ou nas ruas, onde buscam complementar a renda familiar (ITAIPU BINACIONAL, TACRO E UNICEF, 2005).
Ou seja, as crianças cujas famílias encontram-se em situações desfavoráveis, muitas vezes não são somente vistas pelos familiares como aptas a trabalhar como até necessárias para poder complementar adequadamente a renda. A esses exemplos somam-se outros, como os relatórios desenvolvidos pela ECDVU (Early Childhood Development Virtual University) sobre países como Gana e Uganda. Em ambos os casos um dos papéis da criança pertencente a uma família em condições precárias também é o de complementar a renda familiar. Nas situações descritas, a criança é entendida como possível mão-de-obra, dado que qualquer quantia que ela consiga ganhar trabalhando faz diferença na possibilidade de ajudar nos gastos mensais da família. Entidades como estas geralmente têm como pressuposto que as famílias precisam ter melhores condições de vida para que as crianças possam exercer o direito à infância. Esta realidade, no entanto, pode ser muito distante da de famílias com rendas mais estáveis, que consideram os filhos como fonte de investimentos. Em outras palavras, não é raro que casais como estes planejem o número de filhos que terão por aquilo que poderão oferecer materialmente a eles: boas escolas, cursos adicionais, conforto, brinquedos etc. Esse contraste de valores é, inclusive, explicitado. Em famílias com condições minimamente estáveis espera-se que a criança vá à escola e estude, arduamente, enquanto as tarefas domésticas são feitas por empregadas (GAMURORWA, MUHEIRWE, NANKUNDA et al; 2002: 67)
Compartilhar e reproduzir esse discurso não são algo necessariamente problemático, desde que não se torne fonte de preconceitos para avaliar núcleos familiares com condições distintas. Em suma, é problemático partir dessa concepção de infância, calcada no pressuposto da estabilidade financeira, para avaliar famílias que acabam por ver seus filhos como possível mão-de-obra. Isto porque tal atitude ignora uma das principais facetas do problema – as condições precárias das famílias que exploram o trabalho infantil. Com isso quero dizer que não há inadequação no discurso em si, mas que é inadequado homogeneizar posições e discursos para situações e contextos distintos.
Parece claro que, enquanto em Ayiti: The cost of life, a visão sobre trabalho infantil tende a abordar de um modo mais social o problema de a criança trabalhar (apresentando tal questão num contexto de dificuldades financeiras em que, muitas vezes, seu trabalho que pode possibilitar o sucesso futuro de um ou mais membros da família), no universo do jogo The Sims apenas nega-se a possibilidade de crianças trabalharem, impedindo que situações polêmicas como essa ocorram. Em suma, enquanto um jogo se esforça em apresentar esse problema, o outro apenas faz uma espécie de “assepsia” de problemas sociais semelhantes.
Essa forma de estratégia discursiva não é nova. Partidos políticos que se opõem ou mesmo veículos de informação com visões de mundo distintas também tendem a usar a estrutura do texto para argumentar na direção desejada. Isto é, todo texto possui recursos argumentativos para fazer valer o seu ponto de vista em detrimento de outros, por mais que os pontos de vista ali veiculados não estejam muito claros para os próprios autores. Todavia, o modo como esses discursos se articulam em um jogo digital difere sobremaneira dos modos mais tradicionais de leitura que, em geral, obedecem a uma estrutura linear e são feitos através de textos impressos. Em outras palavras, o que importa não é apenas entender que cada jogo veicula visões distintas, mas, sim, como o faz em sua estrutura, por meio das escolhas realizadas por designers.
Para ler videogames: uma perspectiva crítica.
Uma forma interessante de entender as particularidades estruturais dos jogos digitais a partir do viés acima proposto é analisá-los segundo o conceito de “obra em movimento”, de Umberto Eco (1971). Essa comparação inicial tem apenas o intuito de elucidar como um jogo digital pode, ou não, construir sentido através de seus mecanismos. Desse modo, obviamente, não se tem a intenção de discutir motivos estéticos pelos quais certas obras ou objetos são classificados como arte.
Eco, em seu trabalho, aponta uma grande diferença entre obras de arte “tradicionais”, realizadas na maior parte da história da arte, das “obras em movimento”. As primeiras se caracterizam por uma estrutura linear e caminhos já fechados de leitura, embora possam, ao decorrer dos anos (ou mesmo por perspectivas críticas diferentes), por inúmeros fatores, serem interpretadas de diferentes modos. Todavia, é possível que o autor tenha privilegiado, no momento da construção, algumas experiências e algumas relações com a obra. É uma obra já terminada pelo autor, em que o observador terá o «trabalho» de atribuir sentidos, porém a partir das pistas e os caminhos previamente dados e fixos. Já as obras em movimento são propositalmente incompletas: dependem da agentividade do observador para funcionarem, para construírem sentido. Desse modo, é possível definir a “obra em movimento” como possuidora de uma estrutura fixa, dentro da qual há infinitas possibilidades de interação. Para ilustrar o conceito, pode-se trazer o exemplo dos “bichos” de Lygia Clark. Esses objetos, constituídos por um conjunto de chapas metálicas presas por dobradiças (ver imagem), podem assumir infinitas formas e dependem da manipulação do observador-ator para que se complete. É na ação que a obra de arte assume sua(s) forma(s). Por outro lado, não é possível agregar às chapas metálicas ou às dobradiças outras estruturas, nem é permitido desagregá-las, sob o risco de deformar a obra. Ela é prevista na sua estrutura, mas depende da ação do observador para acontecer. E há infinitas possibilidades dentro da estrutura criada pela autora e dentro dos limites da física e química que cada material (escolhido não aleatoriamente pela artista) proporciona.Ou seja: não só a cada novo observador, mas também a cada nova interação de um mesmo observador, a obra já não é mais a mesma. É impossível falar aqui de uma única entrada, uma ordem a ser seguida. Há múltiplos caminhos, tantos quanto o número de vezes que a obra for posta em ação. Por outro lado, não é possível transformar a obra em “qualquer outra coisa”; não se pode passar pelos limites estruturais dados pelas regras de construção postas pelo autor, por mínimas que sejam.
Qualquer jogo digital, por mais básico que seja, tem o mesmo princípio estrutural das “obras em movimento”. Numa breve análise do jogo Pong (ver imagem acima), por exemplo, um dos primeiros jogos mediados por computador, esta analogia se esclarece. No jogo, há uma estrutura dada que o limita: não se pode mexer a “raquete” para além do seu lado da tela. Cada bola que o jogador não rebater dá um ponto ao adversário. Não se pode transformar num jogo de corrida, porém, nunca haverá duas partidas iguais. Ou seja, a estrutura do jogo está fixa, mas o universo de possibilidades é interminável.
É, portanto, de modo similar ao que Eco define como “obra em movimento” que jogos constroem sentido. A noção de Frasca (2001) sobre o papel do programador de um jogo torna essa associação ainda mais evidente. Para o autor, o designer não cria, como num romance tradicional, os percursos de leitura a serem seguidos, mas escreve as regras de comportamento que resultarão em ações específicas, a depender da manipulação do jogador.
E é dessa maneira – na convergência da visão de Frasca com a de Eco – que devem ser vistos os discursos sendo articulados em tais jogos. No jogo The Sims, por exemplo, a criança é representada como alguém extremamente dependente dos adultos. Não ser adulto no universo Sim significa, além de não trabalhar, não poder cozinhar, nem consertar móveis e eletrodomésticos quebrados, nem mesmo ligar para um técnico que possa consertá-los. O papel da criança nesse cotidiano resume-se a brincar, ir à escola e fazer os deveres de casa.
Já ao adulto cabe suprir a criança com brinquedos, comida, habitação e, vez ou outra, companhia. Se, como vimos, isso é o esperado numa família em que os pais trabalham o bastante para “garantir o futuro das crianças”, é curioso como essa relação torna regra para todos os tipos de família dentro do jogo. Caso se crie uma mãe solteira com sete filhos (o número máximo de membros permitido a uma família é oito), ela terá que trabalhar sozinha para sustentar a casa, além de, voltando do trabalho, ter de preparar comida para todos e consertar móveis que porventura quebrem. Essa situação é insustentável no jogo. Por mais habilidade que o jogador tenha, aos poucos o nível de felicidade das crianças e do adulto vão diminuindo, alguns filhos param de ir à escola, deixam de fazer os deveres e têm como fim a assistência social. A mãe, por sua vez, por estar “deprimida”, falta ao trabalho, não “estuda” para melhorar suas habilidades e conseguir um emprego melhor e, conseqüentemente, só vai se recuperando (se não morrer primeiro) quando alguns de seus filhos são levados embora.
Mais que impedir que uma criança trabalhe, o jogo evita que uma família alcance as condições que costumam levar uma família a estimular o trabalho infantil. Todos os Sims são alfabetizados (ao menos, todos lêem livros e jornais) e a toda família é dada uma quantidade de dinheiro que possibilita comprar a casa própria mobiliada. Além disso, há vagas para adultos no mercado de trabalho todos os dias: basta ele estar suficientemente feliz para aceitar o emprego. Diante desse quadro, em que o discurso de que “basta querer para subir na vida” predomina, é quase óbvio transferir a culpa da pobreza – nos casos em que ela se apresenta, no jogo – à irresponsabilidade do jogador e dos adultos da casa. Na certeza de que dois adultos com apenas um filho teriam chances de ganhar muito dinheiro, é fácil assumir como negligência do jogador propor uma família de um adulto para sete crianças.
Sabe-se que, assim como nas obras em movimento, os jogos são construídos coletivamente, mas sempre a partir das diretrizes estruturais fixadas previamente pelos idealizadores e produtores dos objetos. Enquanto as placas metálicas com dobradiças eram a estrutura que Lygia Clark entendeu como base para a construção de seus bichos, escolhas prévias limitaram no The Sims o escopo discursivo do que poderia ser criança. Ao se determinar o comportamento de cada um, criou-se uma série de possibilidades e impedimentos técnicos, a fim de que diferentes papéis (adulto/criança; homem/mulher; Sims manipuláveis/Sims não manipuláveis) não se confundam ou, ainda, entrem em conflito na lógica do jogo. Do ponto de vista técnico, isso é perfeitamente justificável, todavia, do ponto de vista discursivo, as escolhas em si trazem à tona as visões de mundo que os programadores – conscientemente ou não – sustentam e disseminam através do jogo. Há uma estrutura que define um campo de ações possíveis e ilimitadas – nunca haverá uma mesma criança num mesmo tempo, fazendo a mesma coisa e com as mesmas necessidades. Porém, não se pode levar ao jogo todos os conceitos de crianças que existem na realidade. Mas os conceitos que estão presentes no jogo certamente são aqueles que os seus produtores privilegiaram, julgando-nos dignos de estarem ali, a despeito de todos os outros possíveis. Afinal, uma limitação técnica nunca é uma limitação intransponível – basta saber qual o tamanho do interesse em investir na sua superação.
É possível afirmar que The Sims parte de recortes discursivos anteriormente escolhidos e tende a reafirmá-los a cada manipulação do jogador. No caso específico do papel da criança na família e da sociedade, fica claro que se veicula, em cada ato do jogador – seja tentando fazer a criança cozinhar, seja “seguindo o script” e deixando-a livre para brincar e estudar – a noção de criança como pequeno consumidor em quem os pais devem, sobretudo, investir. A criança, nesse jogo, nunca será vista como uma possível mão-de-obra ou, ao menos, como alguém que pode assumir responsabilidades além das escolares, pois não foi programada para tal. Num exemplo sarcástico e radical, pode-se dizer que entre as seguintes possibilidades: ou a criança fazer, por si só, um prato de macarrão, ou um adulto morrer de fome, o jogo, em seu dizer, trata o segundo fenômeno como menos chocante ou problemático. Isso porque a este (alguém morrer de fome) é dado a permissão técnica para que aconteça, mas àquele (uma criança cozinhar), que, inclusive poderia ser condição para resolver a fome do adulto em questão, não está previsto na estrutura do jogo.
Em Ayiti: The cost of life os discursos são construídos de maneira diferente. O simples fato, por exemplo, de não ser óbvio o direito de todas as crianças à escola, mas de ser uma medida a ser decidida pela família (trabalhar ou estudar?) já permite o contato com um universo que acaba sendo, por muitas vezes, silenciado em jogos mais comerciais. A escolha da localidade e das condições sociais da família a serem representadas no jogo também não é ingênua e dela derivam alguns limites e possibilidades. Situações que podem ser impensáveis para jovens de classe média de regiões urbanizadas, por exemplo, apresentam-se ali como problema a ser resolvido. Comprar uma bicicleta pode facilitar a vida da família para andar por milhas em estrada de terra até o emprego. Optar por comprar uma cama – o que gera conforto para toda a família – ou um rádio – que pode gerar diversão – também é um tipo de escolha que não parece usual num ambiente familiar mais abastado. Além disso, o fato de que há algoritmos específicos do jogo que permitem que as crianças trabalhem, para focar no recorte aqui proposto, é relevante por si só. Afinal, desse modo, o jogo inclui em sua programação a reflexão sobre o trabalho infantil, algo mais do que pertinente quando se tem o núcleo familiar proposto no início de cada partida: uma família com escassos recursos e nenhuma instrução escolar. Também é interessante notar que, por mais que as crianças possam trabalhar – segundo orientação expressa do jogador – os algoritmos que definem suas programações são diferentes dos presentes nos adultos. Há empregos que não podem ser realizados por crianças, como trabalhar na destilaria de rum, um dos mais bem remunerados dentre os que não exigem grau algum de escolaridade. A justificativa para isso é que esse tipo de trabalho é muito pesado para crianças. Excetuando esse impedimento, porém, não há diferenças significativas entre crianças e adultos.
Escolhas como essas moldam a noção de criança, de família, de adulto, entre outros, que estão sendo representadas no software. Não é banal o fato de uma criança poder ou não trabalhar. Mais que isso, é extremamente relevante ver qual tipo de criança é instigada a trabalhar e qual é proibida. Também dá margem para levantar questionamentos dados como uma criança não poder fazer certos tipos de trabalhos específicos: por qual motivo isso ocorreria? Incapacidade física da criança? Alguma decisão ética do empregador? Ou simplesmente porque não vale a pena para este?
Aliás, é de se estranhar que os programadores de um jogo ética e politicamente comprometido como o Ayiti: the cost of life não tenham previsto uma regra em que crianças se desgastassem mais que adultos no quesito “saúde” caso trabalhassem no mesmo local pelo mesmo período de tempo. Poderia servir de justificativa para isso o fato de que o jogo está focado na questão da importância da educação como possibilitadora de condições mais favoráveis. Entretanto, seria bastante interessante que um jogo com o apoio da Unicef – que, entre outras posturas, entende que o trabalho infantil é prejudicial à criança – explicitasse os riscos para a saúde de uma criança quando submetida ao trabalho, principalmente se ele for equivalente ao trabalho de um adulto. Afinal, por outro lado, o mesmo argumento que foi utilizado para se analisar o jogo The Sims, cabe aqui: as ideologias também se manifestam através do apagamento de discursos alternativos sobre a realidade. E, dessa maneira, o jogo acaba veiculando a visão de que a criança é apenas um “pequeno adulto” e que a única razão para mantê-la fora do trabalho – o estudo – seria equivalente à razão de um adulto não escolarizado. Nesse sentido, não importaria se fossem os filhos que trabalhassem para que os pais estudassem – o que vale não é evitar o fato de crianças trabalharem, mas sim garantir que membros da família estejam na escola.
Voltando à lógica da obra em movimento, o fato de a criança “sofrer” o mesmo tanto que um adulto ao trabalhar é um dado estrutural. Um dado impossível de ser percebido caso o jogo não entre em funcionamento, pois ele necessita da agentividade de seus jogadores para funcionar e, assim, permitir a construção de sentido. Porém, do mesmo modo como está estabelecida, por meio da estrutura e do funcionamento da obra, uma assimetria de poder entre autor e leitor, o qual, de forma mais ou menos consentida e em troca do prazer que a obra lhe pode oferecer, se submete à condiçãode não «romper as dobradiças», essa relação se reproduz no jogo. Ao jogador não é ofertado – excetuando-se casos específicos de softwares abertos que, ainda assim, demandam conhecimento técnico especializado – o direito de colocar em questão a igualdade de tratamento de adultos e crianças, nesse caso em específico. Do ponto de vista textual, esse dado estrutural é um pressuposto; porém, pensando na natureza “aberta” do videogame, é um pressuposto ainda mais pernicioso: o usuário não só é obrigado a aceitá-lo, como a incorporá-lo na sua co-autoria e, porventura, tomá-lo como dado para fazer suas escolhas e planejar suas estratégias. Ou seja: sua “co-autoria” pode estar subjugada a premissas que, se colocadas em discussão, nem sempre seriam aceitas como o são no ato de jogar.
Como mencionado, Frasca (2001) lembra que os criadores de jogos, dentro de uma simulação, atuam mais como “legisladores” do que como “criadores”: seu encargo consiste fundamentalmente em decidir as regras que valerão para o sistema que está criando. Ou seja, as escolhas dos designers constroem e limitam o universo em que o jogador irá “livremente” caminhar. E aqui se pode retomar a semelhança entre o autor de uma obra em movimento e o designer de um videogame: apesar do privilégio de co-autoria que ambos oferecem ao jogador e ao observador-ator, são aqueles que fazem os recortes e determinam o universo em que estes podem atuar. Ou seja: por mais liberdade que seja prometida ao usuário, esta sempre estará condicionada às escolhas estruturais postas. Indo mais a fundo, pode-se dizer que tanto o jogador quanto o observador-ator “assinam” uma espécie de contrato no momento que se dispõem a jogar com o que é flexível no objeto, comprometendo-se a não alterar ou questionar a estrutura rígida. Isso quer dizer que, ao interagir com estruturas similares a uma obra em movimento, dispõem-se, tacitamente ou não, a se submeter às regras dadas pelo “esqueleto” do objeto. Em outras palavras, tanto no caso de jogos digitais como no caso de outros artefatos similares às obras em movimento, o acordo se realiza nos seguintes termos: o objeto depende da ação e da manipulação de um interlocutor para construir sentido; e o interlocutor, por sua vez, somente poderá agir diante de uma estrutura pré-determinada por aqueles. Isso quer dizer que as responsabilidades de programadores e designers também é diferenciada, pois cabe a eles criar esse universo de discurso sem ter controle dos percursos que o usuário irá delinear e, por conseqüência, sem controle sobre a maneira como todos esses caminhos produzem sentido.
É essencial salientar que as delimitações inicialmente dadas filtram o que cabe ou o que não cabe naquele universo ao qual o jogador está sendo convidado. Não importa a infinidade de maneiras pelas quais o jogador pode atravessar esse universo: ele continuará determinado e imutável e os discursos que nele não foram previstos não existirão no ato de jogar. Isto, sem contar a integração da multimodalidade do jogo com a interação de feedback quase imediato, o que favorece uma intensa sensação de imersão por parte do jogador. Mais do que assistir passivamente à emulação de um mundo, o usuário vive-a, opta, sente-a através de múltiplos sentidos. Assim, há de se salientar que, utilizando-se da imersão característica do meio e de uma falsa impressão de liberdade, o jogo pode induzir o usuário a aceitar premissas de modo irrefletido.
Isto demanda um olhar menos ingênuo na relação com os videogames por parte de acadêmicos, educadores ou criadores preocupados com suas possíveis influências educacionais e políticas na sociedade. Não se pode desconsiderar que a indústria dos jogos digitais visa a um público global, tal qual grande parte das indústrias detentoras do poder das novas tecnologias da informação e comunicação. Aliás, as próprias produtoras de jogos estão, muitas vezes, vinculadas a outras grandes empresas de software e/ou comunicação. A esse fato soma-se outro, não menos relevante – obedecendo às leis do capitalismo e da globalização, os jogos mais comercializados tendem a ser aqueles pertencentes às grandes empresas. Logo atrás, empresas menores que têm como projeto crescer nesse ramo tendem a seguir as diretrizes e fórmulas de grandes empresas: crescer e eliminar as concorrentes. Quando um ou alguns jogos de uma empresa menor obtêm sucesso, a tendência é que ela comece a se transformar numa grande empresa, comportando-se e agindo como tal e, de modo semelhante às suas antecessoras, centralize o poder aquisitivo e cultural de seus produtos. Ou seja, o jogo digital comumente é um produto global, no sentido atribuído por Santos de um “local bem sucedido”: ele possui uma localidade inicial, mas expande suas fronteiras e tende a se impor como “normalidade” ou “padrão” a outros locais. Esse produto possui uma ou outra versão local, para que os jogadores dos distintos países, línguas e culturas possam se aproximar dele. Porém, tais versões não costumam ir muito além de traduções (nem sempre bem feitas, por sinal) ou mudança de nomenclaturas, dificilmente atingindo mudanças estruturais das premissas do jogo.
Partindo dessas observações, é forçoso ressaltar que jogos digitais – a despeito das tentativas de criação de jogos mais politizados e preocupados com a formação do sujeito – são, em grande parte, produtos da globalização; criá-los, estudá-los ou levá-los para a sala de aula numa perspectiva menos ingênua e/ou reprodutora exige comprometimento com esse fato. Não é possível conceber os videogames enquanto artefatos culturais sem pensar que eles – objetos que produzem sentidos, defendem e disseminam valores por meio de uma lógica própria e, ainda, insuficientemente sistematizada – atualmente, fazem parte de lutas entre distintos “locais”. Nem é possível, também, ignorar o fato de que, em grande parte, a produção de jogos digitais tem como principal meta (ou única) o lucro.
Se o conhecimento estrutural de um texto no sentido mais tradicional e linear (como, por exemplo, as relações de coesão e coerência) é um passo para se refletir sobre os discursos nele veiculados, no videogame – aqui entendido como texto – não é diferente. Infelizmente, o conhecimento quanto à estrutura dos jogos ainda não está bem estabelecido e divulgado entre educadores e pesquisadores. Mais que isso, deve-se ressaltar que esse conhecimento por si só também não resolve se o interlocutor não souber identificar as ideologias, posições de sujeito, apagamentos etc. que se manifestam no projeto de dizer de seu autor. Desse modo, uma abordagem crítica frente aos jogos digitais – seja dentro de uma sala de aula, seja para algum estudo ou pesquisa em específico – deveria envolver as condições de produção do jogo (é um produto da indústria cultural globalizada? É um produto de agentes empenhados em questionar o status quo? Qual seu público-alvo? Qual sua intenção primordial, vender ou entreter?) e os próprios discursos que estão sendo articulados no processo do jogar. As análises aqui realizadas deram alguns parâmetros iniciais para refletir sobre como isso pode ser feito.
As constatações expostas nessa conclusão também têm implicações para criadores de jogos com interesses pedagógicos/educacionais. Apesar de ser uma atitude nobre elaborar projetos de criação de jogos para formar o sujeito, não se pode incorrer no erro de, a despeito dessa boa intenção, reproduzir discursos específicos sem ter consciência do que os envolve e de qual é a conseqüência de se reforçar determinados modos de agir ou pensar. A partir do entendimento do jogo como uma obra em movimento, talvez fique mais claro como esses jogos veiculam ideologias, posições de sujeito, apagamentos etc. Afinal, por meio desse viés, os jogos digitais talvez possam levar, de modo eficiente, o usuário a ler – através de seus princípios básicos, suas escolhas e impossibilidades – o mundo e seus conflitos. Para que isso ocorra mais facilmente, no entanto, é necessário que tanto possíveis tutores que os acompanhem no processo de leitura desses jogos, como designers, que almejam criar jogos com conteúdo formativo, estejam a par de como a estrutura do jogo encaminha o jogador para percursos previsíveis, mesmo que infinitos. Mais que isso, como esses percursos potencialmente veiculam e preconizam certos valores culturais em detrimento de outros.
Cabe, então, ao professor e ao pesquisador compreenderem e explicitarem como essas premissas são postuladas previamente à criação do jogo. Premissas que sustentam o universo virtual pretensamente “livre” com o qual o jogador é convidado a interagir. Premissas, ainda, que o jogador, mesmo sem ter consciência disso, necessariamente aceita e incorpora – ao menos, no momento em que joga – para poder continuar a partida. E cabe ao designer conscientizar-se do poder persuasivo do objeto que está criando e de que suas crenças e valores certamente influenciarão a estruturação do jogo. Por isso, há de se ter clareza política sobre o que se pretende ao criar qualquer jogo; clareza do que se pretende ao utilizar um jogo como ferramenta de ensino e das conseqüências de ignorar os alunos, deixando-os por conta própria e a mercê das «dobradiças» que alguém lhes impõe.

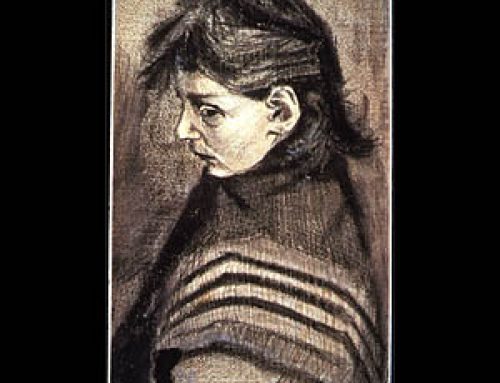




Leave A Comment